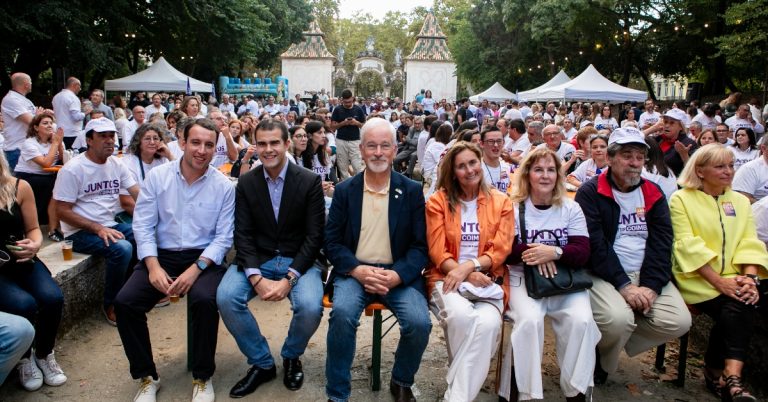Opinião: Autárquicas: menos slogans, mais engenharia

Nas principais cidades portuguesas – Lisboa, Porto, Coimbra, entre outras – os temas mais presentes no debate das eleições autárquicas são a habitação e os transportes e mobilidade. Mais do que refletirem clivagens ideológicas, muitas propostas parecem convergir e alinhar-se com a perceção pública e o que soa bem ao eleitorado. Um exemplo paradigmático é a ideia de gratuitidade dos transportes públicos, que é apresentada por candidatos de diferentes partidos e correntes políticas. Por exemplo, pelo PS em Lisboa, pelo PSD no Porto, e pelo BE em Coimbra. Aparentemente, a medida é popular e transversal (especialmente quando se está na oposição). No entanto, quando confrontada com a realidade técnica e com a experiência internacional, mostra-se pouco fundamentada e até contraproducente.
Na verdade, experiências já realizadas em diversas cidades europeias indicam que a gratuitidade dos transportes raramente contribui para o principal objetivo para que é anunciada. Ou seja, a gratuidade não promove a transição modal do automóvel privado para o transporte público, tão desejada por motivos de sustentabilidade e eficiência. Na maioria dos casos, o que acontece é que quem já usava os transportes públicos passa a usá-los mais vezes, ou que surge nova procura que estava latente – pessoas que antes não sentiam necessidade de se deslocar para realizar determinada atividade, mas que, sendo gratuito, passam a fazê-lo. Ou seja, a gratuidade gera mais utilização dos transportes públicos, mas não necessariamente menos automóveis na estrada. Consequentemente, a gratuidade não contribui para reduzir o congestionamento, nem os acidentes viários, nem a poluição.
Além disso, apesar de alguns benefícios na igualdade de acesso aos transportes, a medida agrava significativamente o principal problema estrutural destes sistemas: a maioria já é deficitária. As tarifas pagas pelos utilizadores cobrem apenas uma parte do custo real do serviço – ou seja, o preço dos bilhetes e passes já é amplamente comparticipado. Ao eliminar completamente a receita da bilhética, agrava-se a pressão financeira, justamente quando a procura aumenta. O resultado pode ser a degradação do serviço, com veículos ainda mais sobrelotados nas horas de ponta e maior dificuldade em garantir qualidade. Em suma, a decisão de usar o transporte público depende muito menos da sua gratuidade do que da sua qualidade, em termos de frequência, conforto e fiabilidade.
Este desencontro entre perceção (à primeira vista, gratuito parece bom) e realidade (em que os benefícios são limitados e superados pelas desvantagens) não se limita ao caso da gratuitidade. Há uma série de propostas – sobre reformulação de linhas de autocarros, articulação entre serviços, etc. – que, apesar de bem-intencionadas e nascidas de algum conhecimento empírico, carecem de fundamentação técnica e de avaliação rigorosa de todos os impactos. São sintomáticas de uma desvalorização mais ampla do papel da engenharia e do conhecimento técnico no debate público, com graves consequências para o desenvolvimento do país e das cidades. A sociedade portuguesa tende a não reconhecer aos engenheiros a centralidade que lhes caberia em matérias como habitação, ordenamento do território ou mobilidade urbana. Tratam-se de domínios clássicos da engenharia civil, claramente definidos no Regulamento sobre os Atos e Competências dos Engenheiros da Ordem dos Engenheiros – em alguns casos, não da total exclusividade da engenharia civil, mas com coordenação ou forte participação desta.
Um médico estuda o corpo humano. Por isso, em caso de doença, reconhece-se a autoridade de um médico. Um jurista estuda as leis. Assim, no direito, recorre-se ao parecer de um jurista. Um engenheiro civil estuda as cidades, os edifícios e as infraestruturas. No entanto, quando se trata de território, transportes ou habitação, a opinião de um engenheiro é frequentemente equiparada à de cidadão comum sem informação e competências específicas na matéria.
Este desfasamento não se limita ao plano autárquico. Também ao nível do Governo central, a engenharia tem vindo a perder relevância institucional. O tradicional Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que perdurou até 2015, reunia competências sobre infraestruturas, transportes e ordenamento do território, e era tipicamente liderado por engenheiros, cuja formação técnica conferia coerência às decisões. Com a sua extinção, nesta última década, estas responsabilidades têm sido repartidas por diferentes ministérios — Infraestruturas e Habitação, Ambiente e Ação Climática, entre outros — que, ainda por cima, têm mudado de nome e de âmbito a cada legislatura. Esta fragmentação dificulta a coordenação, dispersa responsabilidades e enfraquece a implementação coerente de políticas públicas essenciais para a habitação, transportes e planeamento urbano. Em suma, falta à sociedade portuguesa reconhecer que os desafios mais prementes das nossas cidades — habitação, transportes, planeamento urbano — exigem conhecimento técnico especializado. Se quisermos cidades mais humanas, sustentáveis e com maior qualidade de vida, precisamos de devolver à engenharia o papel que lhe compete. A solução terá de passar por mais e melhores engenheiros civis e engenheiros de transportes a contribuir, com conhecimento, responsabilidade e bom senso, para a gestão das cidades e as decisões que moldam o nosso futuro coletivo.
Pode ler a opinião de João Bigotte na edição impressa e digital de hoje (01/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS