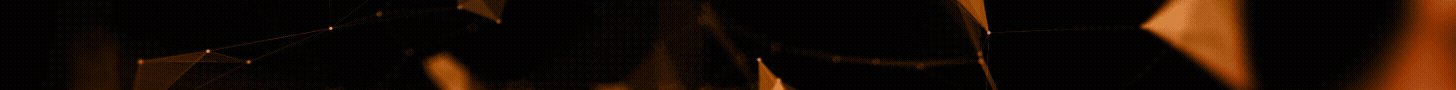Opinião: Quando a máquina pára, as fragilidades expõem-se

Muito se escreveu e disse nos últimos dias sobre o apagão, as suas causas, consequências imediatas, os prejuízos. Mas o que quero evidenciar é que apagão revelou, de forma quase brutal, a arquitetura invisível da nossa vida coletiva. Quando a luz se apagou, não foi apenas a eletricidade que falhou. Falhou tudo o que, sem darmos por isso, sustenta a normalidade: comunicações, transportes, rotinas, interações. Bastaram algumas horas para se instalar uma sensação de colapso. E a ausência total de informação clara e fidedigna não ajudou, pelo contrário. As pessoas foram deixadas entregues a si mesmas, num vazio comunicacional que gerou confusão, medo e reações instintivas. Vi relatos de quem correu aos supermercados, de quem planeou fugas para o campo, de quem fantasiou uma nova vida em comunidade, entre paredes de cimento, ou se perdeu em teorias e pânicos difusos. Cada um por si? Ficámos sós? Sem informação e desorientados. Como se, para além da falha de energia, se tivesse revelado também uma falha política, moral e social.
E nos dias seguintes? Continuamos com a nossa vida, a agir como se estas estruturas fossem indestrutíveis. Ignoramos os sinais. Só reagimos quando a disrupção atinge níveis irrecuperáveis. É assim em relação ao apagão ou às alterações climáticas. E é assim com a deterioração lenta, mas contínua, dos serviços públicos a que assistimos na saúde, na educação, etc. A administração pública não investe como devia na renovação de sistemas críticos. O setor privado, por sua vez, persegue lucros imediatos, deixando o interesse coletivo em segundo plano. E tem na sua mão os sectores vitais da nossa vida. Parece uma contradição que devemos repensar com muito cuidado e coragem.
Mas o que o apagão revelou, à semelhança da pandemia, é a fragilidade total de um modo de vida que construímos assente sobre uma promessa de conforto. Conforto esse que, na verdade, se compra à custa da nossa própria vida. Vendemos o nosso tempo ao sistema. Entregamo-lo, horas a fio, em troca de cada vez menos moeda. E com essa moeda compra-se aquilo que muitos percecionam como sinónimo de felicidade, desde conforto material, capacidade de consumo, acesso, inclusão, pertença. Só que este é um círculo viciado. Quanto mais queremos consumir e pertencer, mais temos de trabalhar. E quanto mais trabalhamos, menos tempo temos para viver a vida. E assim vamos hipotecando a saúde e a vida. Tudo para poder continuar a existir dentro de um sistema que nos diz que só somos felizes se formos produtivos, eficientes e, sobretudo, consumidores ativos.
O apagão foi uma interrupção abrupta neste círculo. De repente, não havia consumo, nem distração, nem produção. Só o tempo. E connosco próprios. E isso, para muitos, é insuportável. Não sabemos o que fazer com o silêncio. Não sabemos como habitar o tempo sem função. Não sabemos como estar sem estar ligados.
Há quem diga que a solução está em sair do sistema, ir para o campo, viver com menos. Reencontrar um ritmo mais humano, mais ligado à terra, aos ciclos naturais. Mas essas escolhas, quando radicais, estão fora do alcance da maioria. E a verdade é que muitas pessoas não querem largar tudo, só gostavam de poder respirar, viver com menos ruído, menos correria, menos exaustão. O problema é que o modelo em que vivemos não nos permite parar. Produzimos até ao limite, exploramos tudo, o corpo, o tempo, e a natureza que nos sustenta. O apagão foi, nesse sentido, uma imagem crua: quando a máquina para, sobra vazio e expõem-se fragilidades múltiplas. E com isso, a sensação de que talvez tenhamos perdido o essencial. A pergunta impõe-se: como se sai disto? Quantos apagões mais serão precisos até decidirmos mudar de sistema, e não apenas de fornecedor?