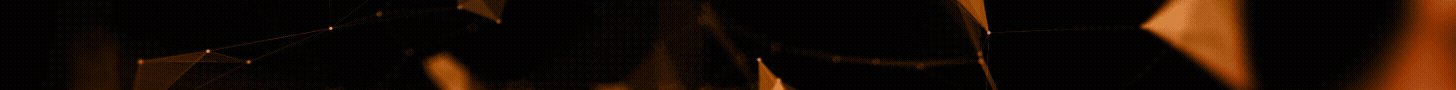Opinião: Sobre os sujeitos da Crise Ecológica, ou como começar de novo

Quando vim trabalhar com ecólogos e biólogos, cientistas ambientais, trouxe comigo não apenas os instrumentos da sociologia, mas sobretudo a vontade de interrogar a aparente separação entre o social e o natural, tão sedimentada na tradição científica moderna. Aprendo sempre tanto. Nessa época estávamos preocupados em mostrar a importância das dimensões sociais e culturais nos processos ecológicos e em mostrar que os fenómenos ecológicos são, também eles, socialmente produzidos, mediados por formas de ocupação, uso, perceção e simbolização dos territórios. Mas faltava ir mais longe e aprofundar as estruturas de poder e as formas de desigualdade que moldam as configurações ecológicas do mundo em que vivemos.
Mais tarde, já com os contributos de mais colegas da minha área disciplinar que, entretanto, se juntaram ao grupo, pudemos aprofundar essa abordagem crítica, onde propusemos uma leitura sócio-ecológica da crise ambiental global. Nele, defendemos que não basta acrescentar ou somar o social ao ecológico: é preciso desmontar os próprios modos de produção do conhecimento que naturalizam as desigualdades, invisibilizam os conflitos e silenciam os sujeitos não humanos.
Neste percurso, brincava, com frequência, dizendo que queria aprender a entrevistar… peixes. Era uma provocação, claro, mas também uma intenção profunda. Aquilo que parecia um absurdo era, para mim, uma metáfora do que estava em jogo: como escutar aquilo que não tem voz humana? Como incluir nas nossas investigações os seres, os ciclos e os ritmos da natureza que partilham connosco esta casa comum?
Esta pergunta que me faz hoje escrever estas linhas, entronca com uma inquietação que hoje encontro em muitos estudantes e investigadores com quem trabalho. Cada vez mais jovens cientistas sociais reconhecem a urgência de pensar o mundo para além das dicotomias sujeito/objeto, humano/não humano. Sentem que faz sentido reconhecer a agência das águas, das florestas, dos animais, das pedras. Mas sentem também o constrangimento de, não raras vezes, vermos e ouvirmos tais tentativas a serem comparadas a delírios ou imaginação poética. É aqui que as ciências sociais abrem espaço para escutar os territórios como campos de relações, como redes de interdependência, como zonas de fricção entre modos de vida. A escuta, aqui, é literal e simbólica. Não se trata de antropomorfizar os outros seres, mas de aprender com eles, de reconhecer que habitamos mundos partilhados, e que esses mundos exigem novas formas de conhecimento, mais humildes, mais relacionais, mais implicadas e comprometidas com o todo. Tantos são os cientistas sociais que nos convidam a repensar as epistemologias que nos ensinam a falar sobre os outros e não com os outros. É por isso que a proposta de “entrevistar um peixe” é uma metáfora para um gesto ético e político que envolve escutar os silêncios, os sinais, as ausências, e as presenças do mundo e reconhecer que há saberes que não cabem nas grelhas da ciência hegemónica, mas que são indispensáveis para enfrentar as crises que atravessamos. O desafio não é apenas teórico ou metodológico, é civilizacional e deve comprometer-nos num tempo onde os equilíbrios ecológicos se desmoronam e se ampliam as injustiças sociais, e por isso precisamos de uma ciência que reconheça as interdependências da vida ao serviço da regeneração do mundo. Entrevistar um peixe talvez represente, no fundo, a pergunta certa para começar de novo.